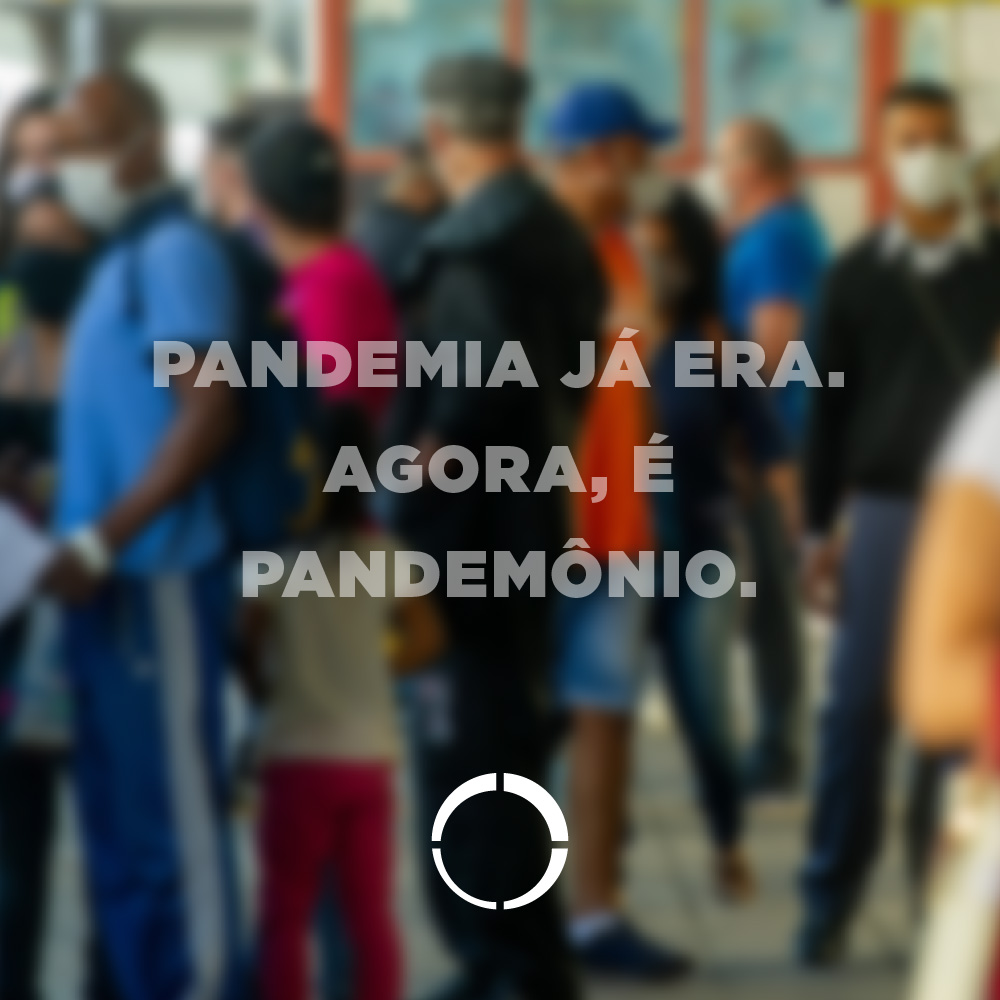Minha mãe teve câncer de mama. Não lembro muito bem, tinha seis anos, mas lembro um pouco. Da angústia em casa, das horas acompanhando seu tratamento.
Naquele ano, ela foi uma das 70 mil pessoas que são diagnosticadas em média no Brasil com este câncer.
Ela descobriu “bolinhas” fazendo o autoexame e realmente procurou um médico, muito antes das campanhas de outubro rosa chegarem ao país. Fazer isso e procurar um tratamento rápido faz toda a diferença para se combater qualquer câncer.
Com plano de saúde que tinha à época, ela se diferenciava dos 75% de brasileiras que dependem exclusivamente do SUS para ter acesso à saúde.
Que vale ser salientado, oferece de graça um tratamento caríssimo e completo, demonstrado em ótimos índices de recuperação das pacientes tratadas por lá, porém, com suas limitações também já reconhecidas em outros âmbitos.
Por ter descoberto bem no início, o tratamento dela levou poucos meses e terminou com uma pequena cirurgia. Isso é o que acontece com 95% dos casos em que o tumor tenha menos de 01 centímetro, este chamado “estágio inicial”.
Mesmo com essa alta taxa de cura, ele representa 16,5% do total de óbitos por câncer que ocorrem no país, sendo também, o que mais mata mulheres pelo mundo.
Justamente sabendo destes dados, vale abordar um lado pouco debatido, que são os efeitos psicológicos e permanentes por ter se enfrentado e superado um câncer.
Se na parte biológica, a sua cura que pode ser medida e controlada, na parte psicológica, isso não pode ser feito.
Um dos dados neste sentido, diz que mulheres tem seis vezes mais chances de serem abandonadas por seus parceiros quando são diagnosticadas com doenças graves e este número chega a 70% nos casos de câncer de mama.
Outro fator diz respeito aos casos graves, onde a mastectomia é recomendada, causando efeitos psicológicos pouco debatidos nestas mulheres e em suas famílias.
É para jogar luz sobre este e tantos outros temas relacionados ao câncer de mama, que se criou, na década de 1990, o outubro rosa, visando incentivar a prevenção a esta doença.
Também é por isso que publicamos este texto: sendo mais uma das tantas marcas que aproveitam o mês de outubro para lembrar a todas as mulheres que venham a nos ouvir ou ler, sobre a necessidade de se realizar autoexame regularmente e de se procurar um médico para fazer a mamografia com frequência.
* Um esclarecimento ético que se faz necessário – De forma afetiva, dizemos que este é um texto ficcional. De forma efetiva, lembramos que esta história acontece com milhares de famílias neste momento.